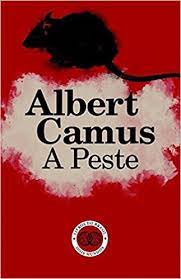A importância de nos tornarmos uma civilização multiplanetária, mas sem nos esquecermos de aprender a viver na Terra

Não considero um sonho irrealizável o homem vir a colonizar outros planetas criando comunidades fora da Terra. O saudoso físico Stephen Hawking (1942 – 2018) defendia a realização urgente dessa ideia num período de 100 anos, argumentando como justificativa evitar potenciais ameaças que seriam fatais para a civilização, a exemplo dos efeitos das mudanças climáticas, colisões com asteroides, possíveis epidemias e o excesso de população. No entanto, discordo que a nossa segunda "Arca de Noé", a princípio, esteja fora de casa. Pois considero que os problemas de relacionamento da humanidade com o meio ambiente, as guerras com uso de armas de destruição em massa e a nossa conduta diante das epidemias, a exemplo de como tem sido diante do enfrentamento da Covid-19, tratam-se de mazelas que se originam dentro do próprio ser humano. Ou seja, nós é que promovemos o atual momento de risco , sendo certo que uma parcela significativa dessa responsabilidade pesa sobre os...