Albert Camus publicou A peste, em 1947, oferecendo à posteridade uma metáfora absolutamente instigante da condição humana. Seu livro, como alegoria, está carregado de verdades cuja raiz mais profunda é o desafio da vida humana no planeta e, ainda mais, o desafio de fazer do planeta uma casa para o ser humano. A peste é, nesse caso, uma ameaça e um exílio. Esse pode ser considerado o eixo central da obra, cujos relatos de mortes e medos remetem ao exílio existencial, metafísico e social. Trata-se daquele estranhamento vivido por Meursault no seu livro anterior, O estrangeiro:
“Ah, o senhor não é daqui?”
. O exílio é a perda do mundo, o deslocamento, o desenraizamento, a falta de referências, a crise de fundamentos e suas consequências práticas: a falta de expectativa, a ruína da esperança, o colapso do interesse, a ausência de pertencimento.
Não é por acaso que o móvel dessa perda de raiz é uma peste: uma doença contagiosa anula aquilo que nos qualifica como seres humanos, a vida em comum. Sem isso, perdemos as condições básicas de nossa própria sobrevivência como animais políticos (Aristóteles) e como seres gregários (Nietzsche). Isolamento, distanciamento, retiro, asilo e quarentena são palavras antigas para expressar a crise da sociabilidade, cujo sentido mais profundo é expresso pela cidade de Orã fechada sobre si mesma: proibido de ir e vir, o ser humano perde a relação, o encontro, a alteridade.
Abalo das estruturas
Exílio, em Camus, é sobretudo separação: “uma das consequências mais importantes do fechamento das portas foi a subida separação em que foram colocados seres que não estavam preparados para isso”. Não é por acaso que o próprio Camus aproxima o exílio de um “desejo de reunião” que é também uma “sede jamais satisfeita” . O exílio é a amputação do outro, da habitação comum e de si mesmo e, com isso, ele se articula com o tema da revolta, para expressar a dissociação entre os desejos do homem e as oportunidades do mundo.
Com a peste, todos ficaram “irremediavelmente afastados, impedidos de se encontrarem ou de se comunicarem”e é essa separação que deixava a todos tão perturbados: os meses de exílio são, sobretudo, “meses de vida perdidos para o amor”. O exílio se traduz, assim, como a crise do afeto, que é a pior das distâncias.
A obra de Camus ocupa essa fenda e, com ela, o autor põe o pé no terreno movediço e instável que marca a pós-modernidade, caracterizada pela imagem do deserto crescente: “o deserto cresce, ai daquele que oculta desertos…”, escreve Nietzsche na quarta parte de Assim Falou Zaratustra . O deserto é o não lugar, o esvaziamento, a desabitação, a terra incógnita e arrasada sobre a qual caminham os que se encontram perdidos. Uma condição que traduz o conceito nietzschiano de niilismo: o abalo das estruturas (instituições, afetos e orientações) da modernidade.
Indiferença
O exílio, não por acaso, dá expressão ao estranhamento, ao nomadismo e à crise de referências contidas em outra metáfora nietzschiana espantosa: a morte de Deus. O deicídio é o ato mais selvagem e mais inquietante de nosso tempo. Selvagem, porque ele retira a civilização dos eixos tradicionais; inquietante, porque não coloca nada no seu lugar. Sem Deus, estamos desabrigados, abandonados, deixados à deriva, precisamente nós que, durante as últimas eras, acreditávamos ocupar o centro das coisas.
O resultado seria a falta de horizontes e metas, a crise das crenças e a falência da moralidade, cujo último produto é a solidão humana, a angústia e o desespero. Hans Jonas descreveu esse sentimento como uma espécie de neognosticismo que o existencialismo de Heidegger, Sartre e Camus teria mantido, mesmo sem saber. Se o gnosticismo antigo era a expressão de uma revolta contra a physis, o neognosticismo existencialista manifesta a indiferença em relação ao mundo – algo que se revela plenamente no narrador de O estrangeiro:
perguntado sobre suas vontades, ele não se demora a responder que “tanto fazia”. Essa mesma indiferença aparece em Melville, cujo escrivão, Bartleby, costumava declarar, diante do mesmo tipo de interrogação: “preferiria não,”dando azo à indiferença, que é o produto maduro do estranhamento e da insatisfação. Indiferente e frustrado, o ser humano encontra-se descomprometido e age sem responsabilidade. Não por acaso, Edward Said chamou a nossa de a “era do refugiado”, que é também a era da indiferença, a era da frustração e do cansaço.
Exílio
O exílio torna-se, assim, não só uma imagem para o antilugar, mas também para a antitemporalidade: o desinteresse provoca a anulação do futuro, traduzida pela apatia generalizada em relação ao porvir. Sua expressão é a morte, tratada como o exílio final, a separação radical entre o homem e o mundo. Não é outro o tema d’A peste, cujas mortes seguem o curso da doença com o drama de quem sai do mundo sem que ele nunca tenha sido seu. A peste é a experiência do exílio porque ela é, sobretudo, a experiência da morte vã arrematando uma vida irrelevante.
O exílio descrito por Camus é o da separação, tanto quanto o nosso hoje. Também agora, como antes, sofremos a perda de um mundo comum cotidiano que era nosso e que nos foi retirado de repente pela peste, sem garantias de que venha a existir novamente. Trancados em casa, todos os que tomamos consciência dos fatos, estamos sem chão e também, como no livro, distante dos nossos amores. Tempo de “clausura e abatimento” vivido pelos doentes em “quartos separados do mundo”, em hospitais, UTIs, quarentenas e isolamento.
Exilados, muitos de nós vivemos em estado de desilusão, doença e solidão, impostas pelo flagelo, enquanto esperamos pela hora da (re)união. Por isso, o livro de Camus é uma espécie de descrição profética não de uma, mas de todas as pestes, incluindo a pandemia que nos afeta hoje, quando enterramos mortos sem adeus e tememos o outro, cujo hálito pode propagar o vírus fatal.
Grito paranoico
As semelhanças entre o relato de Camus e a nossa realidade não são mero acaso: elas traduzem o ritual de todas as pestes. Quando a pequena Orã começa a contar seus ratos mortos, ninguém entende e ninguém acredita que aquilo era sinal de algo mais grave. Como hoje, os números seguidos de mortos, contados às centenas, não mereciam a atenção necessária, porque números não tinham rostos. Ninguém sabia ao certo a gravidade das coisas, porque a ciência não tinha crédito, as autoridades estavam confusas e a mídia, abstrusa.
As medidas sanitárias de controle, o fechamento das fronteiras, a proibição de aglomerações, o fechamento de comércio… Decisões eram tomadas enquanto uma parcela da população ignorava os riscos e minimizava os perigos. No livro, como em nossos dias, interesses de cunho íntimo tiveram prioridade em relação às necessárias ações coletivas. Não seria estranho se, na forma de um intertexto, Camus acrescentasse em alguma de suas páginas o grito paranoico da moça brasileira:
“me entuba p…!”.
Como hoje, a peste de Orã fechou estradas, fronteiras, comunicações. As ruas ficaram desertas e a morte ocupou todos os lugares. Como agora, houve quem se opusesse às medidas, contestasse os dados e desconfiasse da gravidade da peste, de seus prejuízos e sofrimentos. Como os profissionais da saúde de agora, Dr. Rieux, o médico narrador, somava suas dores às de todos os doentes que lotavam os hospitais, enquanto a jornada estafante transformava a profissão em um ato de resistência e heroísmo, quase sempre anônimo e sem plateia.
Previsíveis homens
E não faltaram, como hoje, os moralistas de plantão a bradar que a peste era um castigo dos deuses contra os inimigos da fé e para a exaltação dos justos. Também lá, no livro, esses moralistas morreram do vírus que diziam não existir, sem o Deus que eles juravam suficiente diante da calamidade e sem a medicina que poderia adequadamente tratá-los. Tudo isso mostra o quão previsíveis são os homens em meio às tragédias.
“ O EXÍLIO DESCRITO POR CAMUS É O DA
SEPARAÇÃO , TANTO QU ANTO O NOSSO HO JE .
T AMBÉM AGORA , COMO ANTES , SOFREMOS
A PERDA DE UM MUNDO COMUM COTIDIANO
QUE ERA NOSSO E QUE NOS FOI RETIRADO
DE REPENTE PEL A PES TE , SEM GARANTIAS
DE QUE VENHA A EXIS TIR NOVAMENTE ”
E, como hoje, houve falta de remédios em Orã, além de variações epidêmicas, ignorância, desinformação e desconhecimento; houve estado de exceção, punições e, sobretudo, enterros apressados, corpos em valas comuns, cemitérios lotados, falta de leito em hospitais, desordem econômica e desemprego, obviamente. Também lá a peste afetara desigualmente pobres e ricos, com enorme prejuízo dos primeiros, embora faltassem ingredientes que fazem, hoje, a realidade superar a ficção.
O exílio, como separação e perda de mundo, é o sentimento comum a todos que tomam consciência da gravidade dos fatos: “a primeira coisa que a peste trouxe aos nossos concidadãos foi o exílio”, e a primeira coisa que ela nos tira é o contato com os outros. Sem poder sair da cidade ou encontrar quem se ama, cada cidadão de Orã se sentia um apátrida, sem lar, sem lugar no mundo, um prisioneiro “numa cidade fechada sobre si mesma” de quem se tirou os afazeres habituais e as expressões cotidianas da vida que se dá no encontro com o outro em sociedade. Sem o outro, ficamos sem a experiência central da vida, que qualifica quem somos.
Cenas do reencontro
Estas, descritas por Camus, ao final de seu livro, bem explicam este sentimento: “todos voltaram então para casa, alheios ao resto do mundo”, como “turistas da paixão (…) formavam ilhotas de sussurros e confidências” e “anunciavam a verdadeira libertação” que era estar na presença de quem se amava.
“Esses braços que se entrelaçavam diziam
bem que ela tinha sido exílio e separação,
no seu sentido mais profundo”
Para Camus, o custo impagável do exílio é a impossibilidade do amor, sentimento reunificador e tônico primeiro da vida: se “todos tinham sofrido juntos, tanto na carne quanto na alma, um vazio difícil, um exílio sem remédio e uma sede jamais satisfeita”, o reencontro é descrito como a efusão alegre de quem encontra novamente uma “verdadeira pátria” que está, entre outras coisas, “no peso do amor”.
Por isso, Camus conclui que “as únicas certezas que eles [os homens] têm em comum são o amor, o sofrimento e o exílio”, algo que é partilhado por todos os seres humanos. Agora, como ontem, precisamos descobrir o que fazer com essa tríade. Como em Orã, oxalá possamos revalorizar as relações, reocupar os espaços públicos e saudar o amor e a amizade como fermentos da vida boa.
_______________________________________________________
Artigo publicado na revista Humanitas 143
Autor:
JELSON OLIVEIRA é professor do Programa de Pós--Graduação em Filosofi a da PUCPR, autor de inúmeros artigos e livros, entre os quais estão Negação e poder: do desafi o do niilismo ao perigo da tecnologia (EDUCS, 2018) e Terra Nenhuma: ecopornografi a e responsabilidade (EDUCS, 2020). ✉ jelson.oliveira2012@gmail.com
_______________________________________________
um dos mais importantes e representativos autores do século XX e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, A peste que destaca a mudança na vida da cidade de Orã, na Argélia, depois que ela é atingida por uma terrível peste, transmitida por ratos, que dizima a população. É inegável a dimensão política deste livro, um dos mais lidos do pós-guerra, uma vez que a cidade assolada pela epidemia lembra a ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial. A peste é uma obra de resistência em todos os sentidos da palavra. Narrado do ponto de vista de um médico envolvido nos esforços para conter a doença, o texto de Albert Camus ressalta a solidariedade, a solidão, a morte e outros temas fundamentais para a compreensão dos dilemas do homem moderno.
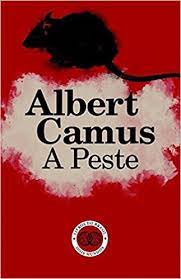
Comentários